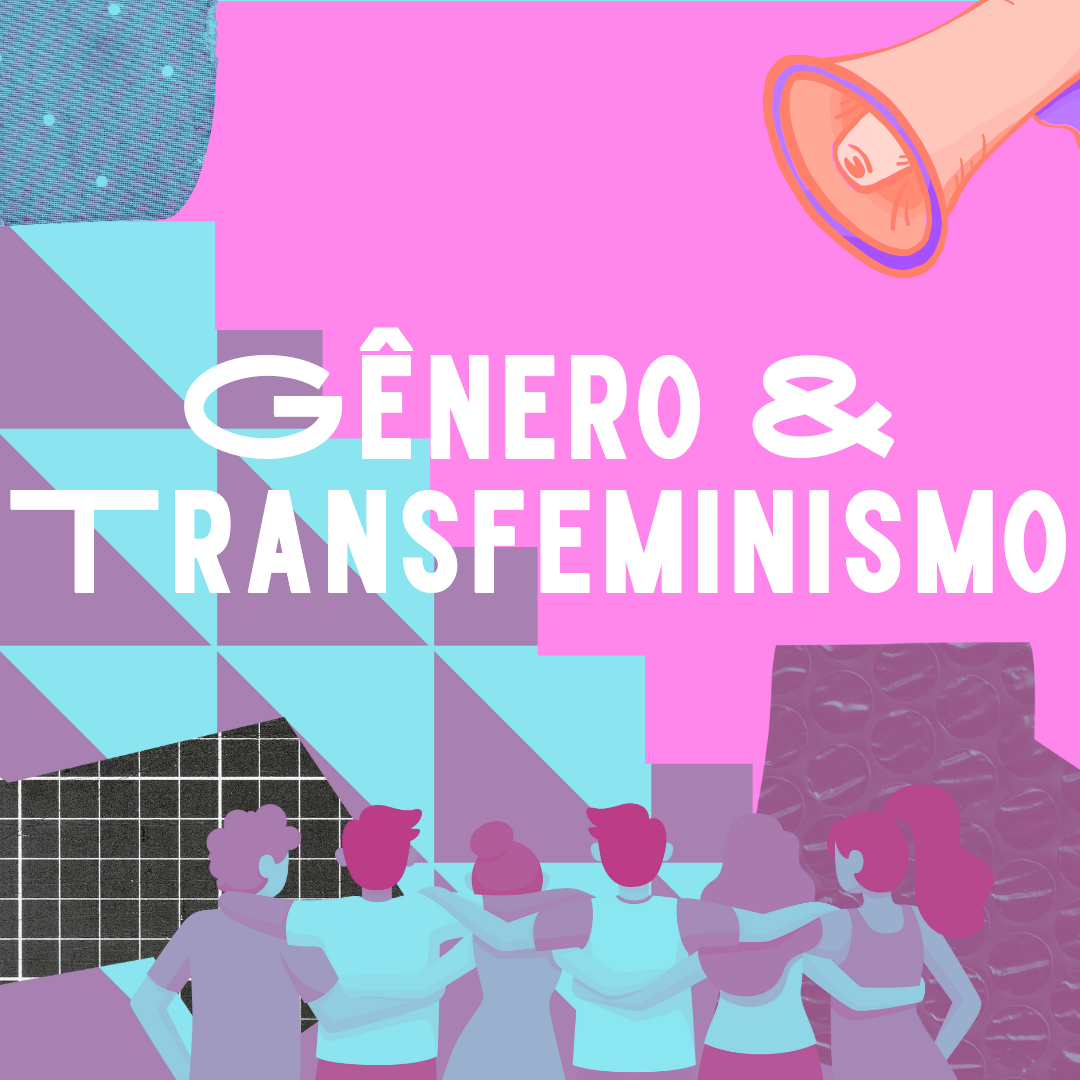
Posts Recentes
>> Aula Magna – Educação, Democracia e Permanência: onde há conhecimento, há transformação – 09/03/2026
Publicado em 06/03/2026
>> Edital UFRJ n.º 191, de 06 de fevereiro de 2026
Publicado em 06/03/2026
>> Edital 256/2026 – Monitoria GPDES/IPPUR
Publicado em 24/02/2026
>> Excelência Acadêmica: PPG-PUR atinge nota 6 na avaliação da CAPES (2021-2024)
Publicado em 14/01/2026
O gênero e a sexualidade numa perspectiva transfeminista
Publicado em 01/07/2024
CATEGORIAS: Boletim IPPUR, Sem categoria
Boletim nº 80, 1º de julho de 2024
Cris Lacerda de Souza
mestrande em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ
O conceito de gênero e de sexualidade, como conceitos em disputa, foram formulados e reformulados em diversos momentos da nossa história; embora haja ainda muitas discussões sobre a identidade de gênero, a comunidade científica já reconhece que o gênero de uma pessoa não mais se restringe somente ao sexo biológico, ele também é resultado de uma construção social, em comunhão com a dinâmica social na qual se insere, percebendo-o, ao mesmo tempo, como sujeito e objeto de processos mais amplos (STRAUSS, 1999). A concepção de gênero, portanto, é baseada nas experimentações que cada indivíduo tem ao longo de sua vida (BRASIL, 2013), é uma construção pessoal, mas de forte influência da cultura e da sociedade, que se acumulam ao longo da sua existência.
Dentro desta perspectiva, compreende-se o gênero, a sexualidade e as relações estabelecidas a partir deles como conceitos inicialmente elaborados por homens brancos e heterossexuais (digo, pelo patriarcado), mas que, no início do século XX, passou a ser pensado por mulheres feministas para demonstrar o processo de naturalização das diferenças e das desigualdades que se atribuíram a homens e mulheres em sociedade. Atualmente, estas distinções se ampliaram para as questões de cisgeneridade1 e transgeneridade2 nas relações entre os gêneros, a partir de uma abordagem literária transfeminista.
Neste artigo, faço um constructo trans-epistemológico com o objetivo de analisar as teorias desenvolvidas pelas diversas correntes do feminismo, que debatem criticamente as categorias de gênero e sexualidade. Estas questões ocupam a centralidade deste capítulo, para que seja possível, a partir delas, constituí-las como ferramentas conceituais que levem à compreensão do transfeminismo como uma nova epistemologia que contemple as experiências individuais e coletivas que ainda hoje disputam as narrativas da cis-heteronormatividade.
Reconstituindo as origens do conceito feminista de gênero e de sexualidade, percebo que embora traga traços diferenciais de cada cultura, as epistemologias oriundas da primeira onda feminista, portanto anteriores à Segunda Guerra Mundial (1939-1945), restringiram-se às experiências de mulheres cisgêneras, heterossexuais, brancas e de classe média/alta, que ocupavam posições de relativo privilégio social (NASCIMENTO, 2014) e simbolizavam o ideal da atuação social a ser alcançado por aquelas mulheres, que se configuravam como sujeitas centrais nas análises da perspectiva feminista.
Como consequência da chamada “primeira onda do feminismo”, ocorrida entre o final do século XIX e início do século XX, trago a perspectiva da Antropologia Cultural produzida por autoras norte-americanas, dos anos 1920-1940, que demonstraram em suas pesquisas que as justificativas biologizantes apresentadas sobre o gênero e a sexualidade, que justificavam as desigualdades entre homens e mulheres, não passavam de formulações ideológicas do patriarcado3 utilizadas para condicionar os comportamentos sociais entre homens e mulheres em nossa sociedade.
Ruth Benedict procurou analisar como as diferentes culturas determinavam as regras de construção da identidade dos indivíduos inseridos nela. O papel que o comportamento cultural desempenhava na conduta e na formação dos sujeitos, pois os indivíduos são conduzidos por regras, normas e costumes sem os quais não haveria sentido viver. O indivíduo não poderia funcionar sem que estivesse sendo condicionado pelas formas tradicionais de conduta que se faziam presentes na sociedade (BENEDICT, 2000).
Margaret Mead, que dedicou seus estudos ao desenvolvimento de teorias sobre as relações entre cultura e personalidade, a socialização de crianças, a sexualidade, aos papéis diferenciais de gênero e às conexões entre cultura coletiva e personalidade individual, ao trabalhar as perspectivas dos papéis sexuais e documentar as diversas maneiras que outras culturas lidam com a construção das diferenças de gênero, apontou para a diferenciação e para a variação cultural na construção dos papéis exercidos entre homens e mulheres, nas diversas sociedades.
Mead observou as personalidades atribuídas a homens e mulheres em cada uma dessas sociedades e concluiu que características psicológicas femininas e masculinas (os temperamentos) não são inatas, mas padrões culturais aprendidos e ensinados de geração a geração. Ela conclui que é a cultura que molda o comportamento e produz a diferenciação de personalidades e comportamentos entre homens e mulheres, não a biologia, orientado somente pelo órgão genital que a pessoa possui; pois se assim o fossem, não haveria diferenças de comportamento entre os gêneros nas sociedades não ocidentais (MEAD, 1935).
Na segunda metade do século XX, numa conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial, o conceito de gênero e de sexualidade passaram a ser atravessados por outros desdobramentos teórico-acadêmicos, que se agregaram à atuação política e organizada, abrindo espaço para novas vertentes do movimento feminista, em conjunto ao movimento LGBTQIA+ (LOURO, 2007), que surgem a partir da década de 1970 e acompanham as várias transformações culturais e sociais advindas desta nova conjuntura.
A filósofa Simone de Beauvoir contestou as lutas por igualdade de direitos e eliminação da dominação masculina, tais como vinham sendo apresentadas, dentro de um recorte de classe, pelo movimento feminista até então. Através da consideração das experiências de mulheres da época sobre a maternidade, da conformação das identidades e dos comportamentos sexuais, como por exemplo: a iniciação sexual das mulheres, a vida de casada, a lesbiandade e a prostituição, Beauvoir (1949) denunciou os aspectos sociais que colocavam as mulheres em lugar de subalternidade (BEAUVOIR, 1949), levando a uma percepção mais plural das mulheres e das categorias de gênero e sexualidade.
Beauvoir considerou o papel da mulher como uma construção social com base na dominação masculina, por isso era importante o enfrentamento dos aspectos sociais que colocavam as mulheres em um lugar inferior. Ela entendeu que essa dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino não se podia explicar a partir de aspectos biológicos ou naturais, mas que a história e a cultura assim o fizeram.
O conceito de gênero e de sexualidade que se desenvolveu em conjunto à segunda onda feminista (entre 1960 e 1980), permitiu combater por dentro do próprio movimento os discursos essencialistas e reducionistas que buscavam na natureza das mulheres a sua justificação. As epistemologias feministas passaram, então, a estruturar estes conceitos de modo a compreendê-los para além das dimensões culturais e históricas, evitando, assim, o postulado que compreendia as mulheres como algo único e universal.
Neste novo paradigma da identidade de gênero, passou-se a distinguir o sexo – visto como algo fixo, ligado à natureza – e o gênero – visto como algo mutável, ligado à cultura. Portanto, essas novas leituras passaram a perceber que os sistemas de diferenciação iam além da questão da cis-heteronormatividade, englobando também ao sistema opressor pessoas que não se alocavam nos arranjos estruturais da sociedade patriarcal, como as mulheres lésbicas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres transgêneras, mulheres não binárias e pessoas intersexo que escolheram performar a feminilidade.
Gayle Rubin ajudou a impulsionar uma nova concepção para o termo gênero ao afirmar a existência de um sistema sexo/gênero, compreendido como termo neutro que se refere às esferas de relações sociais e econômicas, que está associado à passagem da natureza para a cultura, ou seja, é o conjunto de “arranjos por meio dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana” (RUBIN, 1975).
Para a autora, a desigualdade social entre homens e mulheres aparece também em estreita conexão com o controle da sexualidade feminina e a imposição da heterossexualidade como norma social. Isto é, a cisgenereidade é incutida nos sujeitos, assim como a heterossexualidade é também um processo instituído na estrutura.
Foi a partir de Rubin (1975) e dos trabalhos de outras feministas, em diversas áreas do conhecimento, que se ampliaram as pesquisas sobre as vivências das mulheres e de suas opressões, fortalecendo o conceito mais plural de gênero e de sexualidade.
Na emergência de novos paradigmas de raça/etnia, identidade de gênero, sexualidade e decolonialidade, que pesam como novas categorias do que significa “ser mulher”, partindo da tese de de que “não se nasce mulher” (BEAUVOIR, 1975), da luta atual frente aos agentes opressores e às memórias apagadas, destaca-se a tarefa política do transfeminismo na implementação de uma nova abordagem para o sistema sexo/gênero que desconstrua qualquer critério de “verdade” social absoluta, através de uma “naturalização biológica”4 fundamentada na ideia de que o sexo determina o gênero.
As novas leituras sobre o gênero e a sexualidade do final do século XX, ampliadas pelo viés queer, consideram que as distinções do que é ser homem e mulher não esgotam os sentidos sobre estas questões e que ainda resistem às concepções tradicionais e lineares impostas pela cis-heteronormatividade.
Judith Butler, ao apresentar suas ideias sobre identidade, identificação, sujeito, performatividade e performance (BUTLER, 2003), trouxe-nos uma crítica da literatura e do movimento feminista existentes por se limitarem na forma como criticavam o gênero (aparência feminina ou masculina), o sexo (genitália feminina ou masculina) e o desejo (que em teoria deveria ser sempre um desejo heterossexual5) e que estavam desatualizadas em relação à evolução dos conceitos, pois estas críticas também refletiam tais conceitos como um conjunto de categorias binárias, que geralmente definem o comportamento do indivíduo em sociedade. Indo contra esse sistema de categorizar as pessoas, ela também afirmou que o gênero precisa ser entendido como uma característica humana fluida, não engessada, que pode mudar em determinados contextos.
A obra de Judith Butler deu base para a fundação da chamada Teoria Queer6, que teve o papel fundamental de desconstruir o conceito binário de sexo/gênero no qual está baseada grande parte a teoria feminista, cuja divisão partiu da ideia de que o sexo é natural e o gênero é socialmente construído.
Embora correntes da teoria feminista considerem que exista uma unidade na categoria mulher, um paradoxo é introduzido na divisão feita por Butler, ao retirar do conceito de gênero a noção de que ele decorreria do sexo biológico, discutindo, ao mesmo tempo, em que medida a distinção entre sexo/gênero tornou-se arbitrária, pois o sexo não é natural, ele também é discursivo e cultural como o gênero.
Estas novas formulações sobre gênero e sexualidade promovidas pela Teoria Queer parecem se distanciar o pensamento feminista tradicional, porém, elas trabalham com ideias mais próximas à realidade dos indivíduos. Nesta trajetória histórica, o conceito de gênero se difundiu considerando as desigualdades e diferenças que afetavam apenas as mulheres e acabou adquirindo outros sentidos, ampliando-se para contemplar outras identidades de gênero e outras sexualidades que não se permitem classificar ontologicamente de maneira tão linear.
Para melhor entendimento desta questão, trago as formulações du filósofe espanhole Paul B. Preciado, nascide Beatriz Preciado, ume dus expoentes queer que mais tem se destacado no cenário de debates desta nova teoria nos estudos sobre gênero e sexualidade, juntamente com Judith Butler e outras autoras. Elu apresentou o conceito da contrassexualidade como um conjunto de análises que subvertem e criticam as categorias engessadas de identidade, principalmente aquelas ligadas ao gênero, à sexualidade e ao sexo.
A análise crítica dessas diferenças que costumam ser julgados como produtos de explicações biológicas, da cis-heteronormatividade, cujo caráter essencialistas e reducionistas se aliam às hipóteses das construções sociais e mentais destes conceitos, as desloca através de mecanismos de um sistema tecnológico mais abrangente, e passam a ser entendidos como resultados de dispositivos subscritos neste sistema e, também, no sistema sociopolítico. São sistemas bastante complexos por englobarem categorias opostas como: “homem” e “mulher”, “cisgênero” e “transexual”, “homossexual” e “heterossexual”, “ativo e passivo” que para u autore não passam de máquinas, instrumentos, produtos, conexões, redes, fluxos de informação e usos que incidem sobre o nosso corpo (PRECIADO, 2014).
As práticas de inversão contrassexual são apontadas na proposição do termo “dildotectônica”7, compreendido como um ramo importante do conceito de contrassexualidade, pois supõe que o corpo é como uma superfície móvel e terreno de localização do dildo, que está para além das performatividades de gênero. U autore chama atenção também para a crítica à cultura heteronormatizada, que entende o corpo como um mecanismo biológico exclusivo a serviço da reprodução sexual e do prazer genital.
O Manifesto Contrassexual (2014) é absolutamente importante para os novos estudos feministas de gênero e sexualidade, por considerar em que medida os diferentes mecanismos de gênero operam para produzir e reproduzir posições para a dicotomia entre sujeito-corpo e as formas através das quais esses sujeitos-corpos resistem à normatização da cis-heterossexualidade. Isto é, o que importa é como essas tecnologias falham, sobretudo, quando se chocam com as subjetividades de corpos intersexuais, transexuais e não-bináries que existem na sociedade.
A poetisa, ensaísta e professora norte-americana Adrienne Rich ao propor a ideia da cis-heterossexualidade como uma instituição patriarcal que retira o poder político das mulheres e as mulheres, na medida em que elas são consideradas propriedade emocional e sexual dos homens e acusam a autonomia e igualdade de ameaçarem a família, a religião e o Estado. As instituições que tradicionalmente tenta controlar as mulheres são, segundo a autora, a família nuclear, a maternidade, a exploração econômica e a heterossexualidade compulsória que têm sido fortalecidas através da legislação e por esforços de censura, levando a discriminações e violências lesbofóbicas em nossa sociedade.
Monique Wittig, feminista lésbica francesa enfatizou que, para o conceito de gênero, o feminismo do século XX “não conseguiu superar as contradições existentes na relação entre natureza e cultura, pois o enfoque feminista/materialista da opressão das mulheres acaba com a ideia de que as mulheres são um ‘grupo natural’” (WITTIG, 2019). Segundo a autora, a comunidade lésbica destruiu a classificação artificial das mulheres como sendo apenas um grupo natural, ao descortinarem as divisões em relação aos homens, nas quais elas têm sido tratadas como objetos e pertencentes a eles, numa concepção política que demonstra a ideologia opressora na classificação deste grupo específico.
O feminismo negro é um movimento que enriquece a luta pelos direitos das mulheres, inclusive de mulheres trans/travestis, intersexo e não-binárias, pois nem todas vivem sob condições de igualdade, sobretudo na sociedade brasileira. Por isso, é necessário que todas as mulheres tenham voz e que o movimento feminista seja realmente plural.
Angela Davis traz a ideia de que o movimento feminista surge organizado e idealizado por mulheres cis-heterossexuais brancas, de classes média e alta, que traziam interligados a este sistema um forte recorte de raça, gênero e classe que não atendiam às demandas das mulheres em sentido mais amplo (DAVIS, 2016).
Compreendida como um dos pontos centrais do feminismo negro, a teoria interseccional ou interseccionalidade, foi um conceito primeiramente apresentado por Kimberlé Crenshaw, segundo a qual, os aspectos de gênero da discriminação racial e os aspectos raciais da discriminação de gênero não são apreendidos na sua totalidade pelos discursos em defesa dos direitos humanos, por serem fenômenos mutuamente excludentes. Para ela, é na proposição de um modelo temporário para a identificação das diversas formas de sujeição que os efeitos interacionais das discriminações de raça e de gênero são refletidos (CRENSHAW, 2002).
A Colonialidade é entendida como a representação de que os padrões eurocêntricos oriundos do pensamento da Modernidade não foram superados e continuam sendo reproduzidos, através do apagamento que a universalização e a uniformização de práticas e conceitos patriarcais e capitalistas que a modernidade trouxe aos diversos âmbitos da vida em sociedade, ignorando por completo as categorias de raça/etnia e gênero/sexualidade numa constituição classista, a partir de um “sistema moderno e colonial eurocêntrico de gênero” (LUGONES, 2007).
O feminismo decolonial nos pauta a construção de um feminismo que leve em conta as perspectivas de povos originários, que valorize as questões de raça e etnia, mas que também absorva as gramáticas das lutas dos povos colonizados e dos levantes de emancipação metropolitana.
Para superar a dominação cis-heteronormativa eurocêntrica, o feminismo decolonial busca romper com as universalidades epistemológicas para as tran-sepistemológicas e reconstruir o feminismo para o tranfeminismo, pois assim, as produções científicas serão capazes de considerar a existência destes corpos “não-ditos da modernidade e da colonialidade” (LUGONES, 2007).
Falar sobre a presença de mulheres transexuais e travestis na produção teórica do movimento feminista amplia e diversifica a compreensão dicotômica de gênero/sexualidade, a partir de uma ótica mais ampla e diversa do feminismo, para irmos além do que a academia e os movimentos sociais, ainda consideram como padrão epistemológico e de práxis.
Letícia Carolina Nascimento traz a compreensão de que a pluralidade do feminismo é decorrente dos desdobramentos da categoria gênero, marcado pelas transformações culturais e históricas, evidenciadas nos diversos modos de ser e viver das mulheres. Isto deveria ser suficiente para delimitar, nos feminismos, as vivências de mulheres travestis e transexuais, entretanto, os discursos advindos do feminismo radical, baseados no sexo biológico ainda circulam e buscam condicionar o gênero de uma pessoa aos aspectos anatômicos de diferenciação sexual, para assim excluir pessoas trans e travestis dos debates acerca das pautas do feminismo (NASCIMENTO, 2021).
Os conceitos de mulheridades8 ou de feminilidades9 apresentados por Nascimento (2021), são por si heterogêneos e trazem à luz do conhecimento as diversas experiências de corpos dissidentes ao cis-heteronormativismo, o que exige diversas teorizações voltadas para as diversas demandas políticas, concebidas a partir da pluralização do conceito de feminismo (NASCIMENTO, 2021).
Evidencia-se com isso, a necessidade constante da desnaturalização de conceitos essencialistas e reducionistas que limitam as categorias gênero e sexualidade, para que possamos abarcar cada vez mais experiências de mulheridades e feminilidades, como as vivenciadas pelas mulheres transexuais, travestis e não-bináries na sociedade. É na emergência destas identidades e na visibilidade destes corpos, que ressignificamos o conceito de gênero e de sexualidade na consolidação destas identidades femininas. O transfeminismo, portanto, é uma categoria do feminismo que vem ganhando cada vez mais reconhecimento, no Brasil e no mundo, com importantes expoentes acadêmicos e no movimento social.
A ressignificação para o pensamento transfeminista está, no contexto brasileiro, ainda em construção, pois o transfeminismo pode ser compreendido como uma forma de pensar e de agir que rediscute a forma de subordinação do gênero ao sexo biológico, em relação aos processos históricos, contra as opressões baseadas na cis-heteronormatividade, no binarismo e na branquitude, cujos fundamentos são encontrados na mentalidade política de luta e de resistência do feminismo negro que abarca as vivências de pessoas trans/travestis, intersexo e não-bináries, na interseccionalidade das opressões (JESUS, 2014).
Esta transepistemologia, conduz a uma contra-epistemologia (CAMPOS e YORK, 2024), isto é, a uma historiografia não normativa, que rompe com o silenciamento intelectual (SPIVAK, 2014) colonial, que levam a uma perspectiva crítica contra-colonial (SANTOS, 2015) e tem o poder de transformar a sociedade e de promover o reconhecimento, a inteligibilidade e a igualdade de direitos das mulheres transexuais e travestis e, também, de pessoas intersexo e não bináries.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, Fernanda Maria Caldeira de. O conceito de patriarcado nas análises teóricas das ciências sociais: uma contribuição feminista, in: Dossiê Múltiplos Olhares sobre Gênero, Revista Três Pontos. Ed. UFMG, 2016.
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo, v.I, II. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
BENEDICT, Ruth. Padrões de Cultura. Tradução: Alberto Candeias. Lisboa: livros do
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
CAMPOS, Clarisse Mack da Silva; YORK, Sara. A TRAVESTILIDADE COMO POTÊNCIA EPISTEMOLÓGICA: ROMPENDO OS GRILHÕES DO TRANS-EPISTEMICÍDIO. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, janeiro de 2024, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/announcement/view/1753. Acesso em: 25/01/2024.
COELHO, Caia. Sexo: um paralelo crítico entre a trajetória de gênero e de cisgênero. Transadvocate Brasil, 20 mai. 2017. Disponível em: http://brasil.transadvocate.com/sexo/um-paralelo-critico-entre-a-trajetoria-de-genero-e-de-cisgenero/. Acesso em: 11/05/2023.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, CFH/CCE/UFSC. Florianópolis. v. 10 n. 1. p. 171-188. 1º semestre de 2002.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução: Heci Regina Candiani (1 Ed.). São Paulo: Boitempo, 2016, 248 pp.
FLAX, Jane. Pós-modernismo e relações de gênero. In: BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa (org.). Pós-Modernidade e Política. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1991 (pp. 217- 250).
HARAWAY, Donna: “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos Pagu, 22, 2004.
HOOKS, bell. Pondo fim à opressão sexual contra a mulher. In: Teoria Feminista da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores de opinião. 2ª Ed., Brasília; 2012.
_________ (org.). Transfeminismo: teorias & práticas. Rio de Janeiro: Editora Metanoia, 2014. Pp 3-18.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 2007.
LUGONES, María. Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System. Hypatia, 22 (1): 186–209, 2007.
MEAD, Margaret: Sexo e Temperamento. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000.
NASCIMENTO, Letícia Carolina. Transfeminismo. Ed. Jandaira, 2021.
PRECIADO, Beatriz. Manifesto Contrassexual, Políticas subversivas de identidade sexual. São Paulo: n-1 edições, 2014.
RICH, Adrienne Cecile. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Tradução por Carlos Guilherme do Valle. Bagoas, n. 5, p. 17-44, 2010.
RODRIGUES, T. S. P., & Dittrich, A.. Um diálogo entre um cristão ortodoxo e um behaviorista radical. Psicologia: Ciência e Profissão. São Paulo. 2007.
RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: Notas sobre a economia política do sexo. 1975.
SANTOS, Antonio Bispo dos. Colonização, Quilombos-Modos e Significados. Brasília: INCTI/UnB, p. 89, 2015.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: UFRGS, 1990.
SOUZA, Eloisio Moulin de. A Teoria Queer e os Estudos Organizacionais: Revisando Conceitos sobre Identidade. In RAC, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, art. 2, pp. 308-326, Maio/Jun. 2017.
SPIVAK, C. G. Pode o Subalterno Falar?. Tradução: Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
VIEIRA, Amiel; COSTA, Anacely Guimarães; CORTEZ, B. G. P. E. M. Intersexualidade: desafios de gênero. Periódicus, Salvador, v. 1, n. 16, p. 1-20, dez./2021. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/45725/25035. Acesso em: 25 mar. 2023.
WITTIG, Monique. Não se nasce mulher. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.
NOTAS
1 “Conceito ‘guarda-chuva’ que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento”. (Jesus, 2012)
2 “Conceito ‘guarda-chuva’ que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento”. (Jesus, 2012)
3 Como forma específica de dominação masculina, é um sistema social baseado na diferença de gênero, utilizado como meio de oprimir e subordinar a mulher ao homem; pode ser exemplificado pelo poder do pai sobre a mulher e filhos, ou de chefes homens sobre as mulheres nos locais de trabalho (AZEVEDO, 2016).
4 E também religiosa.
5 Ou seja, o desejo pelo indivíduo de gênero oposto.
6 Esta expressão foi utilizada pela primeira vez em 1990 por Teresa de Lauretis, ao organizar uma conferência na Universidade da Califórnia denominada de Queer Theory. A teoria desenvolveu-se inicialmente nas áreas das ciências humanas e sociais, principalmente nos estudos literários e linguísticos, sendo posteriormente incorporada às outras áreas do conhecimento. “Quase a totalidade desses estudos desenvolvidos buscam analisar aspectos identitários sobre gênero e sexualidade” (SOUZA, 2016).
7 Expressão utilizada para esclarecer de que maneira o consolo ou dildo (pênis de plástico) compõe e interfere o sistema sexo/gênero.
8 A autora utiliza este termo para identificar os diferentes meios pelos quais podemos congregar como estas experiências sociais, pessoais e coletivas.
9 A autora utiliza este termo para identificar os modos pelos quais as atrizes sociais do movimento feminista dialogam com o que o senso comum determina como “feminino” e de que forma esse roteiro cultural é recriado, e produz subversões de gênero e sexualidade.



